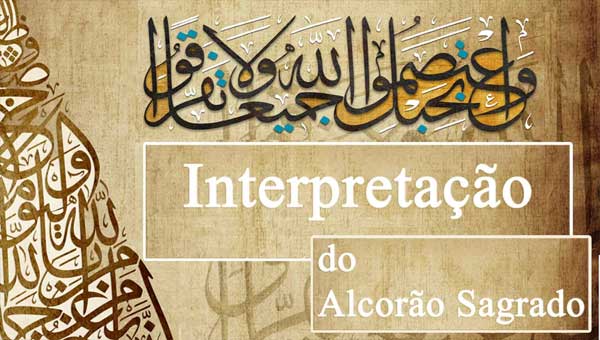Uma Investigação Tradicional (Ḥadīth)
No livro Al-Maʿānī, atribui-se ao Imam al-Ṣādiq (A.S.), acerca da palavra do Altíssimo: “Aqueles que creem no Invisível”, a seguinte explicação:
“Aquele que crê na veracidade do levante do Qaʾim (A.S.) [o Salvador].”
Comentário:
Esse sentido também é transmitido em outras tradições similares, e se insere na interpretação do tipo jary (aplicação extensiva do versículo).
No Tafsīr al-ʿAyyāshī, também se transmite do Imam al-Ṣādiq (A.S.), sobre a palavra do Altíssimo: “e gastam, como caridade, daquilo com que os agraciamos”, a seguinte explicação:
“E do que lhes ensinamos, difundem.”
E, no Al-Maʿānī, do mesmo Imam (A.S.), sobre o mesmo versículo:
“E do que lhes ensinamos do Alcorão, recitam.”
Comentário:
Essas duas narrativas se fundamentam na compreensão de que o termo infaq (despesa no caminho de Deus) abrange algo mais amplo do que apenas o gasto de bens materiais — como já foi mencionado anteriormente.
Um Estudo Filosófico
[Sobre a Confiança em Realidades Extra-Sensoriais e uma Refutação aos Empiristas]
É legítimo confiar em formas de conhecimento que não se restrinjam às percepções sensoriais, como as concepções puramente racionais?
Essa questão tem sido amplamente debatida entre os pensadores ocidentais modernos. Ainda que a maioria dos filósofos da antiguidade — inclusive os sábios islâmicos — reconhecesse tanto a percepção sensível quanto a razão como fontes válidas de conhecimento, muitos pensadores contemporâneos, sobretudo no campo das ciências naturais [aqueles que que reduzem todo conhecimento à sensação], passaram a rejeitar a confiabilidade de formas de cognição não baseadas na experiência sensível.
[OBS: É importante, considerar o período em que o caro sábio vivia, bem como o contexto intelectual em que outras correntes de pensamento estavam sendo produzidas e disseminadas].
Os defensores dessa posição geralmente argumentam que as concepções puramente racionais estão sujeitas a frequentes erros e enganos, e que não há um critério externo seguro para distinguir entre o acerto e o erro. Para eles, apenas os sentidos e a experiência empírica — por estarem ancorados em dados particulares — fornecem tal critério. Ao contrário do raciocínio abstrato, eles afirmam, as percepções sensoriais podem ser verificadas por meio da repetição experimental, o que permite confirmar com segurança certas propriedades do mundo externo e, assim, eliminar dúvidas subsequentes.
Contudo, esse argumento é falso, apresentando falhas significativas, por razões principais:
- 1. Primeiramente, todas as premissas empregadas nessa linha de argumentação são, elas mesmas, de natureza racional e não sensível. Isso cria um paradoxo lógico: o argumento nega a validade da razão, utilizando, paradoxalmente, a própria razão como fundamento. Se o argumento fosse válido, ele invalidaria a si mesmo.
- - 2. Em segundo lugar, os erros das faculdades sensoriais não são menos numerosos do que os erros atribuídos ao raciocínio. Essa limitação é amplamente documentada nos estudos sobre os sentidos, especialmente a visão, e outras formas de percepção. Portanto, se a simples possibilidade de erro fosse critério suficiente para invalidar uma fonte de conhecimento, seria ainda mais necessário rejeitar os sentidos como fundamento cognitivo.
- - 3. É imprescindível dispor de um critério para distinguir entre o erro e a verdade em qualquer forma de conhecimento. No entanto, a experiência — entendida como repetição da percepção sensorial — não é, por si só, um instrumento de discernimento. O que realmente ocorre é que o dado empírico, resultante da experiência, se converte em uma das premissas de um raciocínio que conduz à conclusão desejada. Por exemplo, ao percebermos uma propriedade sensível em um objeto e repetirmos essa percepção em casos semelhantes, acabamos formulando, ainda que implicitamente, um silogismo do tipo: “Essa propriedade está presente de maneira constante ou predominante nesse objeto; se não fosse própria dele, não se manifestaria de forma constante ou predominante; logo, ela lhe é característica.” Ora, esse raciocínio contém premissas que são de natureza intelectual, e não sensível ou empírica.
- - 4. Mesmo admitindo que todo conhecimento sensível se apoie na experiência quando aplicado na prática, é evidente que a própria experiência não se justifica por uma outra experiência anterior, num processo indefinido. O conhecimento da validade da experiência não decorre da própria experiência, mas de um tipo distinto de certeza, não sensível. Isso mostra que confiar nos sentidos e na experiência implica, inevitavelmente, confiar também na razão.
- - 5. A percepção sensível alcança apenas os aspectos particulares e mutáveis da realidade, enquanto o conhecimento científico opera com proposições universais — que não são acessíveis nem pelos sentidos nem pela experiência direta. Por exemplo, a anatomia pode observar em alguns indivíduos humanos órgãos como o coração ou o fígado; essa observação se repete mais ou menos vezes, mas continua limitada a casos particulares. No entanto, a conclusão científica — como “todo ser humano possui um coração” — é uma generalização que transcende o dado sensorial. Se aceitássemos apenas o que os sentidos e a experiência proporcionam, sem recorrer ao raciocínio abstrato, não teríamos acesso ao conhecimento universal, à reflexão teórica nem à investigação científica. Assim como é legítimo apoiar-se na percepção sensível para o que lhe é próprio, também o é confiar no raciocínio para os domínios que lhe são específicos.
- - 6. Por "razão", entende-se aqui a faculdade que permite formular juízos universais e compreender proposições gerais. Não há dúvida de que o ser humano possui essa faculdade — e é inconcebível que algo criado pela natureza (ou pela Providência) tenha como característica fundamental o erro absoluto. Como poderia algo ser dotado, pela própria constituição natural, de uma função cognitiva cujo funcionamento essencial fosse falho? A natureza só associa uma função a um ente quando há uma correspondência objetiva entre ambos. Logo, não faz sentido presumir que a razão humana seja estruturalmente enganosa, pois isso implicaria que a natureza estabeleceu uma relação funcional entre o ser e o não ser — entre o real e o falso.
Quanto à ocorrência de erros nas ciências ou nas percepções sensoriais, a análise adequada exige um tratamento específico em outro âmbito de investigação. Deus é o Guia.
Outro Ensaio Filosófico
[Sobre a Prova da Existência do Conhecimento e a Refutação dos Sofistas e Céticos]
O ser humano, em seu estado inicial e ainda simples, ao começar a interagir com o mundo, percebe as coisas como se acessasse diretamente suas realidades externas. Ele não se dá conta, a princípio, de que, entre ele e os objetos percebidos, há uma mediação: o conhecimento. Permanece nesse estado até que, em determinado momento, se depara com a dúvida ou incerteza. É então que desperta para o fato de que sua vida prática e sua relação cotidiana com o mundo sempre estiveram sustentadas por algum grau de conhecimento — especialmente ao perceber que, por vezes, comete enganos e erros em suas distinções.
Ora, não há como o erro pertencer à realidade objetiva em si; logo, ele passa a ter certeza da presença, em si, da faculdade do conhecimento — entendido aqui como uma apreensão que exclui a contradição [que rejeita o seu oposto].
Uma investigação filosófica mais aprofundada conduz à mesma conclusão. Nossas apreensões afirmativas (os juízos) podem ser analisadas até alcançarmos um primeiro princípio absolutamente evidente: “a afirmação e a negação não podem coexistir, nem podem ambas ser negadas simultaneamente”. Toda proposição, seja evidente por si ou resultante de raciocínio, requer esse princípio como fundamento último de sua validade. Mesmo se tentássemos hipoteticamente duvidar desse princípio, perceberíamos que a própria dúvida exclui uma contradição: afirmar sua veracidade implica uma negação ao seu oposto, o que é o desejado. Estabelecido esse princípio com clareza, uma imensidão de juízos e conhecimentos científicos pode ser fundamentada com base nele. É sobre essa base que o ser humano sustenta seus pensamentos e suas ações.
Assim, não há situação científica nem evento prático em que o ser humano não se apoie no conhecimento. Mesmo sua dúvida só pode ser reconhecida como tal porque ele sabe que está em dúvida. O mesmo se aplica a sua opinião, ilusão e até ignorância — só os reconhece porque os distingue através de algum conhecimento.
Na Grécia antiga, surgiu um grupo conhecido como os sofistas, que negavam a existência do conhecimento e sustentavam a dúvida sobre todas as coisas — inclusive sobre si mesmos e sobre o próprio fato de duvidarem. Posteriormente, surgiram outros pensadores, chamados céticos, que seguiram caminho semelhante. Esses últimos, no entanto, restringiam a negação do conhecimento ao que se encontra fora de si mesmos e de seus próprios pensamentos (ou percepções), ou seja, ao mundo externo. Alguns chegaram inclusive a elaborar artifícios argumentativos em defesa dessa posição.
Entre os argumentos apresentados por esses pensadores, destacam-se os seguintes:
Um deles afirma que os mais fortes entre os nossos conhecimentos e percepções — ou seja, aqueles obtidos por meio dos sentidos — estão repletos de erros e equívocos; sendo assim, que confiança poderíamos depositar, portanto, nas demais formas de conhecimento? Dado esse quadro, perguntam: como seria possível confiar em qualquer tipo de ciência ou juízo que diga respeito à realidade externa?
Outro argumento diz que, sempre que buscamos conhecer algo do mundo exterior, não obtemos a própria coisa, mas meramente o conhecimento dela. Como, então, seria possível acessar de fato qualquer objeto externo?
Outros argumentos similares também são apresentados.
A resposta ao primeiro argumento é que ele se autodestrói. Pois, se não fosse lícito confiar em nenhum juízo ou afirmação de conhecimento, também não seria possível confiar nas próprias premissas que sustentam esse argumento. [já que o próprio conhecimento foi necessário para formulá-las].
Além disso, o reconhecimento da existência e frequência do erro é, ao mesmo tempo, uma confissão da existência da verdade — ao menos em igual proporção, se não maior. [Pois o erro só se define em contraste com a verdade].
Ademais, quem afirma a existência do conhecimento não alega que toda e qualquer percepção seja correta, mas apenas que há conhecimento verdadeiro em certos casos. Em outras palavras, o que se afirma é a validade parcial (afirmação particular), e não uma validade universal (afirmação total), e o argumento apresentado não é suficiente para negar essa validade parcial.
Quanto ao segundo argumento: o conhecimento consiste no ato de revelar aquilo que está além do próprio sujeito. Assim, se toda vez que buscamos conhecer algo externo encontramos em nós o conhecimento desse objeto, isso significa que, naquele momento, houve a sua revelação e o objeto é apreendido, ainda que de maneira indireta. Justamente este processo é o sentido do conhecimento, não a captação direta da realidade externa do objeto, mas a sua manifestação ao sujeito cognoscente.
Ninguém que defenda a existência do conhecimento afirma que conhecemos a “coisa em si”, ou que apreendemos a essência do objeto tal como ele existe fora da mente. O que se defende é que o conhecimento revela algo do real, ainda que de modo mediado. A prova disso está na própria conduta deles mesmos, como atestam suas ações voluntárias e necessidades vitais; quando a pessoa se move em direção à comida ou à água ao sentir a dor da fome ou da sede — não meramente ao pensar nesses objetos de forma abstrata. Do mesmo modo, ela foge de um perigo real quando sabe que ele está presente, e não apenas ao concebê-lo mentalmente de forma vaga.
Em resumo: toda necessidade real, quando sentida de fato pelo corpo e pela alma, conduz o indivíduo a uma ação concreta para suprir tal necessidade. Já a simples concepção abstrata da necessidade — sem que a natureza esteja de fato carente dela — não leva à ação. Há, portanto, uma diferença essencial entre os dois tipos de concepção: uma surge da vontade e do interior do sujeito; a outra é imposta por um fator real e externo que o afeta, revelado justamente pelo conhecimento. Donde se conclui a realidade deste.
Resposta às Objeções Materialistas: O Conhecimento é Imaterial
Nota-se ainda um tipo distinto e forte de dúvida quanto à existência do conhecimento, o qual se tornou, atualmente, a base conceitual das ciências materiais. Trata-se da negação de qualquer forma de conhecimento fixo e estável (e todo conhecimento é fixo).
A argumentação é a seguinte: as investigações científicas mostram que, no mundo natural, tudo está submetido a um processo de transformação e desenvolvimento contínuos. Cada parte do universo está em constante movimento, orientada para algum grau de aperfeiçoamento. Assim, nada permanece idêntico a si mesmo: aquilo que existe em um momento já não é o mesmo no instante seguinte.
Ora, como o pensamento e a cognição são tidos como atributos do cérebro, conclui-se que também eles são fenômenos materiais, sujeitos às mesmas leis de transformação que regem os demais processos físicos. A partir disso, argumenta-se que toda percepção (inclusive o conhecimento e ciência) está inevitavelmente inserido nesse fluxo de mudanças. Logo, não haveria conhecimento fixo e permanente — somente construções relativas, algumas mais duradouras, resistentes ou consistentes do que outras, e é a essas que se costuma chamar de “conhecimento”.
A resposta a essa objeção se baseia na crítica à suposição fundamental de que o conhecimento seja algo material e, portanto, sujeito à mudança. Essa premissa não é evidente nem comprovada. Ao contrário, a análise mais precisa revela que o conhecimento não possui natureza material — o que se demonstra pela incompatibilidade entre suas características e aquelas próprias da matéria.
A saber:
- 1. Todos os entes materiais são divisíveis, ao passo que o conhecimento, enquanto tal, não admite divisão.
- - 2. A matéria está situada no espaço e no tempo, mas o conhecimento, em sua essência, não ocupa lugar nem depende de um tempo específico. Prova disso é que somos capazes de compreender um evento que ocorreu em um local e momento determinados em qualquer outro tempo e lugar, sem que isso altere sua identidade.
- - 3. A matéria está sempre submetida à mudança e ao movimento, ao passo que o conhecimento, enquanto tal, é por natureza imutável. A condição essencial do conhecer contradiz a instabilidade e a transformação inerentes aos entes materiais. — o que se torna claro a qualquer observador atento.
- - 4. Se o conhecimento fosse, de fato, algo mutável em si mesmo, como os entes materiais, seria impossível reter ou recordar qualquer coisa, pois aquilo que se conhece em um instante já não existiria da mesma forma no instante seguinte. Não haveria como compreender uma mesma ideia em dois momentos distintos, nem como rememorar eventos passados de modo coerente.
Esses e outros argumentos indicam, com clareza, que o conhecimento, enquanto tal, não é um fenômeno material. Quanto aos processos físicos que ocorrem nos órgãos sensoriais ou no cérebro durante o ato de conhecer, esses pertencem a outra ordem de investigação e não constituem, por si sós, o próprio conhecimento. O simples fato de que duas coisas ocorrem simultaneamente não prova que sejam idênticas.
Os aspectos mais detalhados desse tema deverão ser abordados em outros trabalhos específicos.